A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL E A ATUAÇÃO DO PRÍNCIPE REGENTE
Manoel de Souza Lordeiro, ex-associado titular, cadeira n.º 24, patrono Henrique Pinto Ferreira, falecido a 21/07/2008
Em 1806 quase toda a Europa se encontrava sob o domínio de Napoleão Bonaparte: a nação que não se aliasse aos franceses era por eles subjugada. Restavam ainda, no extremo ocidental, a Inglaterra – seu inimigo maior – Espanha e Portugal, este um tradicional aliado dos ingleses. Através de um decreto que fez publicar em Berlim, em novembro de 1806, Bonaparte determinava que “os navios, as mercadorias e os imóveis de propriedade de súditos ingleses, e eles próprios, que se encontrassem em qualquer país do continente, seriam considerados boas presas de guerra”. A resposta não se fez esperar: Canning, ministro de George III, declarava à França e a todas as nações que a ela se aliassem ou estivessem sob seu controle, que se considerassem bloqueadas, sendo ilegal todo o comércio marítimo por elas praticado; autorizava-se, ao mesmo tempo, o corso contra os seus navios.
Em 1807 Napoleão dominava a Espanha, colocando no trono espanhol seu irmão José Bonaparte, restando, assim, a adesão de Portugal para que se completasse o bloqueio continental. Em novembro desse ano, intimados pela França a declarar guerra aos ingleses, os portugueses ainda tentaram uma manobra de despistamento, com uma fictícia declaração de guerra, ainda que, secretamente, permanecessem fiéis aos compromissos assumidos com a Inglaterra. O ardil não deu certo, ordenando Napoleão a imediata invasão de Portugal. Um tratado secreto assinado entre França e Espanha, em outubro de 1807, suprimia Portugal da carta política da Europa, dividindo o seu território em três Estados, cabendo um deles ao Rei da Etrúria (atual Toscana), outro ao Príncipe da Paz, D. Manuel de Godoy – ministro de Carlos IV de Espanha e que traiu sua pátria em favor de Napoleão – e o terceiro à França, que o manteria sob seu domínio, podendo até restituí-lo, mais tarde, à dinastia de Bragança – desde, é claro, que esta lhe fosse submissa. Por outro lado, o Imperador havia deixado bem claro o tratamento humilhante que seria dispensado à família real quando suas tropas chegassem a Lisboa.
Em Portugal, o Conselho de Estado era presidido pelo Príncipe Regente D. João, que assumira o governo em 1792 em substituição à sua mãe, a Rainha D. Maria I, afastada do trono por problemas mentais. Diante das ameaças de Napoleão, Lord Strangford, ministro inglês em Lisboa, aconselha D. João a transferir para o Brasil a sede do governo. Reunido o Conselho em 24 de novembro de 1807, quando se tornava iminente a invasão pelas tropas francesas, foi tomada a decisão de partir para o Brasil, assinando D. João com a Inglaterra um convênio que lhe garantia cobertura naval para a transferência da corte. Na verdade, já há alguns meses se cogitava de tal medida, mantida, entretanto, sob absoluto sigilo. Para a Inglaterra a solução era vantajosa, pois além de manter o governo luso sob sua dependência, trazia embutida a promessa de abertura dos portos coloniais aos navios ingleses.
O embarque da família real, acompanhada por cerca de 12.000 súditos, foi efetuado na manhã de 27 de novembro. A esquadra portuguesa era composta de 18 navios de guerra e 25 navios mercantes. Um esquadrão britânico, comandado por Sir William Sidney Smith e composto por 13 navios, fazia o bloqueio do Tejo, por determinação do ministro Canning, em retaliação às medidas decretadas por Bonaparte. A este esquadrão caberia escoltar as naus portuguesas em sua viagem ao Brasil.
O embarque de D. João e sua comitiva naquele dia foi providencial, já que as notícias eram de que as tropas sob o comando do General Junot se encontravam às portas de Lisboa. Mas não foi feito sem traumas: de todos os lados ouviam-se protestos e lamentações daqueles que ficavam, sentindo-se desamparados e à mercê dos invasores. A partida foi precedida de bastante apreensão, pois os ventos eram desfavoráveis, e somente no dia 29 os navios puderam deixar o Tejo. Dezoito horas depois, Junot entrava com suas tropas na capital portuguesa.
A família real não viajou unida mas distribuída por várias unidades da esquadra. No “Príncipe Real” seguiram, entre outros, a Rainha D. Maria I, o Príncipe Regente D. João e o Príncipe da Beira, infante D. Pedro. D. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, suas filhas e outros membros da família, foram distribuídos pelos navios “Afonso de Albuquerque”, “Príncipe do Brasil” e “Rainha de Portugal”.
Em 5 de dezembro, a meio caminho entre a Ilha da Madeira e o continente, o navio-capitânia “Hibernia” e mais oito navios da escolta alteraram seu rumo e, após as salvas de praxe, retornaram ao bloqueio do Tejo. Os quatro navios restantes, sob o comando do Comodoro Graham Moore, do “Marlborough”, escoltariam as naus portuguesas até o Brasil.
A viagem é cheia de peripécias, com os navios enfrentando desde tormentas de inverno, no hemisfério norte, a calmarias, na zona equatorial. Em 16 de janeiro o “Príncipe Real” dirige sinal ao navio”Bedford”, que o seguia de perto, comunicando uma mudança de planos, pois D. João decidira fazer escala em Salvador. Com alguns navios da frota que se dispersara, e após 54 dias de viagem, o “Príncipe Real”, com mais de mil passageiros a bordo, aporta na Baía de Todos os Santos em 22 de janeiro de 1808.
D. João permaneceu cerca de um mês em Salvador, dando ali início a uma série de medidas que iriam alcançar grande repercussão, como a assinatura da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional – excluídas, evidentemente, a França e nações aliadas, com quem Portugal estava em guerra. Era o fim do monopólio português do comércio com o Brasil.
No dia 26 de fevereiro a frota deixava Salvador com destino ao Rio de Janeiro, fundeando na Guanabara, próximo à Ilha das Cobras, no dia 7 de março. O desembarque efetuou-se na tarde do dia seguinte. As festas de recepção à família real estenderam-se por mais de uma semana; só após o seu término cuidou-se de instalar a nova administração. Formado o ministério, foram criados, de imediato, o Conselho de Estado, o Conselho Militar e da Justiça, a Intendência Geral de Polícia. Criam-se, entre outras entidades, a Real Academia de Marinha, Escola de Artilharia e Fortificações, a Fábrica de Pólvora (no Jardim Botânico), a Imprensa Régia, a Livraria Pública e o Banco do Brasil.
O Rio de Janeiro naquele ano de 1808 era uma cidade acanhada, além de provinciana e insalubre, onde a população de cerca de 60.000 pessoas – a metade constituída de escravos – levava uma vida tão pacata quanto rotineira. A repentina invasão de 12.000 visitantes, em sua maioria ricos e ilustres, provocou uma reação antes de espanto que de entusiasmo, diante daquela gente carregada de jóias e coberta de tecidos finos, sofisticada demais para os padrões da colônia.
A família real instalou-se no palácio dos vice-reis (governava o Brasil naquela época o Conde dos Arcos), cujo pessoal foi desalojado sem maiores delongas. A comitiva real adotou idêntico procedimento, tomando os fidalgos para si as residências mais elegantes, pouco se importando com a reação dos seus proprietários. Na porta da cada habitação requisitada os soldados escreviam as iniciais P.R. (Príncipe Regente), que a verve carioca, já naquela época, não perdoou: traduziu as iniciais como “ponha-se na rua”, ou “prédio roubado”…
A presença da corte no Brasil teria como conseqüência o rápido desenvolvimento da colônia. A abertura dos portos, proporcionando a arrecadação de impostos nas alfândegas, assegurava ao governo uma boa parte dos recursos necessários ao custeio da administração, mas outras medidas de grande alcance foram igualmente tomadas. Por um alvará de 1º de abril de 1808 eram revogadas todas as restrições à indústria em geral, facultando a qualquer cidadão – ainda que estrangeiro aqui residente – criar os estabelecimentos que desejasse. Ainda como estímulo às indústrias, modificou-se a carta régia de 28 de janeiro, permitindo-se que mercadorias de propriedade de portugueses, e por sua conta transportadas em embarcações nacionais, pagassem nas alfândegas apenas 16% “ad valorem” (as estrangeiras pagavam 24%); isentou-se de impostos a matéria-prima que se viesse importar para a indústria; garantiram-se direitos dos inventores e favoreceu-se a introdução de máquinas e equipamentos novos; foram dispensados do serviço militar os agentes e empregados de fábricas e oficinas; criaram-se prêmios e medalhas como estímulo a agricultores e industriais; declarou-se, mais tarde, que o comércio de cabotagem seria exclusivamente brasileiro. Por outro lado, procurou-se aperfeiçoar o ensino médico; deu-se acolhida aos cientistas estrangeiros e a concessão para que efetuassem expedições pelo interior do Brasil; criou-se o Jardim Botânico; promoveu-se a realização de estudos que facilitassem o desenvolvimento da colônia e a melhoria das cidades; promoveu-se a vinda da missão artística francesa de 1816, que resultaria na criação da Academia de Belas Artes. Ao adotar essas medidas, D. João deixou patente a execução, na colônia, de uma política mais abertamente liberal do que aquela por ele adotada em Lisboa.
Ao tomar a decisão de transferir para o Brasil a corte portuguesa, e com ela o governo, D. João não apenas contribuiu para o desenvolvimento da colônia, como possibilitou a sobrevivência de Portugal como nação, mantendo, inclusive, a integridade da família real, ao contrário do que sucedeu a outras nações dominadas por Napoleão Bonaparte.
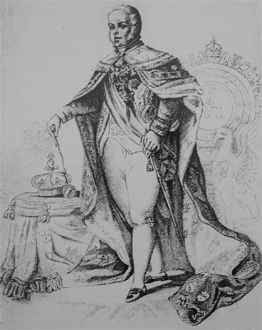
D. João VI. Gravura de Lemaître, a partir de pintura de Jean Baptiste Debret
Em 1815 é criado por D. João o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Com o falecimento de sua mãe, a Rainha D. Maria I, em 1816, o príncipe regente foi coroado Rei D. João VI. Em 26 de abril de 1821, forçado pelos acontecimentos políticos em Lisboa, retorna D. João VI a Portugal, acompanhado por um séquito de cerca de quatro mil pessoas, deixando como regente o Príncipe D. Pedro.
Nas palavras de Afonso E. Taunay, “Os historiadores que estudaram imparcial e conscienciosamente a ação de D. João VI no Brasil, conseguiram de modo notável a destruição da injusta lenda que deste príncipe fazia mera espécie de glutão apoucado, abúlico, incapaz de governar, resignado a deploráveis condescendências. Não há hoje, quem, possuindo critério médio, isento de paixões e preconceitos, deixe de reconhecer quão grande foi a soma de serviços prestados à nossa pátria pelo monarca emigrado em 1808”.
Manuel de Oliveira Lima, brilhante historiador brasileiro, escreveu, por ocasião do centenário da abertura dos portos, o livro D. JOÃO VI NO BRASIL (1ª edição em 1909), no qual defende a atuação do príncipe regente no episódio da transmigração da família real. No dizer de Gilberto Freire “trata-se de uma das obras mais importantes, de qualquer gênero, jamais produzida no Brasil”, Freire lamenta que esta obra não tenha alcançado em Portugal “a repercussão que deveria como reabilitação de um rei tão caracteristicamente português”. Segundo Oliveira Lima, “a D. João não se podem atribuir brilhantes proezas militares ou golpes audaciosos de administração, o que fez – e não foi pouco – o foi pelo exercício simultâneo de dois predicados: um, de caráter, a bondade; o outro , de inteligência, o senso de governo”. O historiador vai mais longe ao considerar o monarca como o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Wilson Martins, prefaciando a 3ª edição da obra de Oliveira Lima (Topbooks. Rio de Janeiro, 1996), registra que “a transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil foi o início inegável do processo histórico que iria resultar na Independência”. Critica, também, o que chama de “historiadores apressados e superficiais, incapazes de enxergar além das aparências”. Os que chamam pejorativamente de fuga o ato de D. João, “são os mesmos que encaram respeitosamente como ‘retirada’ a fuga moscovita do mesmo Napoleão…”.
A transmigração era, na verdade, um antigo plano de estadistas portugueses, partindo de Martim Afonso de Sousa, no século XVI, a primeira sugestão nesse sentido, ao afirmar, na presença de D. João III, que “doidice seria viver um rei na dependência de seus vizinhos, podendo ser monarca de outro maior mundo”.
No século XVIII D. Luís da Cunha, estadista português, lembrava a D. João V a conveniência da mudança da Corte para o Brasil e que o lugar mais apropriado para a residência real seria o Rio de Janeiro. O marquês de Pombal também chegou a cogitar desse plano por ocasião do terremoto que arrasou Lisboa (1755) e em 1762, quando a capital estava ameaçada de invasão pelas tropas espanholas. Consta que teriam sido feitos preparativos para um eventual embarque de D. José I e da família real para o Brasil.
Em 1801, o 3º Marquês de Alorna, em expressivo documento encaminhado ao Príncipe Regente D. João, defendeu a transmigração da Corte para o que chamou de “Grande Império”. Em 1803 já ficava evidente a impossibilidade de manutenção da neutralidade portuguesa diante dos propósitos expansionistas de Napoleão Bonaparte. Nessa oportunidade, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro Conde de Linhares, dirige-se a D João no sentido de transferir para o Brasil a sede da monarquia portuguesa.
Podemos concluir, portanto, que nada houve de precipitado na medida extrema a que foi obrigado o príncipe regente. De acordo com Varnhagen, “já não havia que hesitar” Aceita a solução, uma nova era iria abrir-se para o Brasil, que “em vez de colônia ou principado honorário, tornava-se o verdadeiro centro da monarquia”.
No Brasil dos primeiros tempo da colônia, já na vigência das capitanias hereditárias, o comércio com o reino era exercido livremente, a coroa apenas protegendo as operações efetuadas por súditos portugueses. Após 1550, forçado pela competição com outros colonizadores europeus, Portugal passou a adotar medidas protecionistas que evoluíram até a decretação do monopólio que fechou os portos do Brasil ao comércio internacional. Tal situação iria perdurar por mais de dois séculos, impedindo a expansão do comércio e mantendo a colônia em estado de subdesenvolvimento, com evidentes reflexos nos campos econômico, político e cultural.
Somente a atuação do Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, viria a operar alguma transformação no quadro geral da economia. Este ministro, a quem se deve o soerguimento da monarquia portuguesa arrasada pela desastrosa atuação de D. João V, o Magnânimo, tomou várias medidas de capital importância para a colônia: fomentou a indústria e o comércio; protegeu a navegação; estimulou os aqui nascidos, nomeando os mais destacados para cargos importantes na administração; mudou a sede do governo de Salvador para o Rio de Janeiro (1763), a fim de melhor administrar os conflitos no Sul; cancelou a determinação, relativa aos navios mercantes, de só em frotas fazerem a travessia do Atlântico.
A carta régia que decretou a abertura dos portos em 1808, permitia a exportação, por estrangeiros, dos principais produtos da colônia, tais como açúcar, tabaco e algodão, bem como a importação de mercadorias européias. A atividade comercial iria expandir-se rapidamente, beneficiando portos como os de Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
A vida nas cidades passaria por profundas transformações, surgindo inúmeras casas comerciais nas imediações das zonas portuárias. Diante da facilidade com que se obtinham produtos importados, principalmente da Inglaterra, a população adquiriu novos hábitos de consumo, passando os mais abastados a vestir-se à maneira européia e a comprar artigos até então de rara presença na colônia, como louças finas, talheres, cristais, sabonetes e perfumes.
A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional foi, sem dúvida, um grande passo para nossa emancipação política, uma vez que se rompiam as relações coloniais entre o Brasil e Portugal, tal como definidas pelo monopólio da metrópole. As medidas que se seguiram não só libertaram a colônia dos entraves que limitavam o seu desenvolvimento, como estimularam as atividades econômicas e culturais, resultando no fortalecimento das forças sociais que iriam conduzir o processo de independência.
Não se pode fazer alusão à abertura dos portos e outras medidas relevantes tomadas por D. João, sem mencionar a participação de algumas personalidades cuja contribuição tornou-se fundamental para a concretização dessas medidas. O primeiro nome a destacar é o de José da Silva Lisboa, Barão e depois Visconde de Cairu, nascido na Bahia em 1756. Político, economista e professor, Cairu exerceu decisiva influência na decretação da abertura dos portos, tendo sido apoiado, nessa oportunidade, pelo ministro de D. João, Fernando José de Portugal e Castro, Conde e depois Marquês de Aguiar, Vice-Rei do Brasil de 1801 a 1806. Cairu teve presença marcante, também, no ato de 1º de abril de 1808, que permitiu o estabelecimento de manufaturas no Brasil. Sua carreira pública foi iniciada em Salvador, num órgão que regulamentava os preços dos produtos agrícolas, tendo, assim, a oportunidade de conhecer melhor os problemas da economia brasileira. Recebeu uma forte influência do economista escocês Adam Smith, cujas idéias teve ocasião de divulgar em seu livro “Princípios de Economia Política”, e foi, no Brasil, o primeiro professor de ciência econômica. Na condição de conselheiro de D. João, teve a oportunidade de pôr em prática suas teorias. Como político, Cairu representou a Bahia na Assembléia Constituinte e foi senador do Império, sendo um dos mais operosos membros do Partido Restaurador.
Outro nome importante a destacar é o de Antônio Araújo e Azevedo, Conde da Barca. Emigrado com D. João, foi um dos mais esclarecidos portugueses do seu tempo. Homem de larga visão, deu também o seu apoio a Cairu quando da decretação da abertura dos portos. Foi Ministro da Marinha e Negócios Ultramarinos e presidente do Real Erário. Esforçou-se pela promulgação do decreto de 1815 que elevava o Brasil à categoria de reino e foi um dos artífices da vinda, para o Brasil, da missão artística francesa, em 1816, que iria constituir o núcleo da futura Academia de Belas Artes.
Bibliografia
1. ATLAS DA HISTÓRIA UNIVERSAL – THE TIMES Times Book Ltd. / Globo Cochrane Gráfica Ltda. Brasil, 1995.
2. CROCHET, Bernard – “Les bateaux de toujours – Témoins de l´histoire” Ed. Larousse, Paris, 1990.
3. ENCICLOPÉDIA DELTA UNIVERSAL – Ed. Delta S.A. Rio de Janeiro, 1980
4. GOMES, Telmo – “Navios portugueses – Séculos XIV a XIX” Ed. INAPA. Lisboa, 1995.
5. GUEDES, Almte. Max Justo – “História naval brasileira”. 1º vol. Tomo I. Serviço de Documentação Geral da Marinha. Rio de Janeiro, 1975.
6. LELLO UNIVERSAL – Lello & Irmão Editores Porto, Portugal, 1983
7. LIGHT, Kenneth H. – “A viagem da família real para o Brasil”. In Tribuna de Petrópolis, 2/11/97, pg. 19 e 9/11/97, pág. 19.
8. LIMA, Manuel de Oliveira – “D. João VI no Brasil”. 3ª Ed Topbooks. Rio de Janeiro, 1996.
9. POMBO, Rocha – “História do Brasil”. Ed. Melhoramentos. 11ª Edição. São Paulo, 1963.
10. SOUTO MAIOR, A. – “História do Brasil”. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1972.
11. TAUNAY, Afonso E. – “A missão artística de 1816”. Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1956.
12. VALADARES, Clarival do Prado – “Rio – vol. I, Barroco”. Bloch Editores. Rio de Janeiro, 1978.
13. VIANNA, Hélio – “História do Brasil”. Ed. Melhoramentos/Ed. da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1975.
